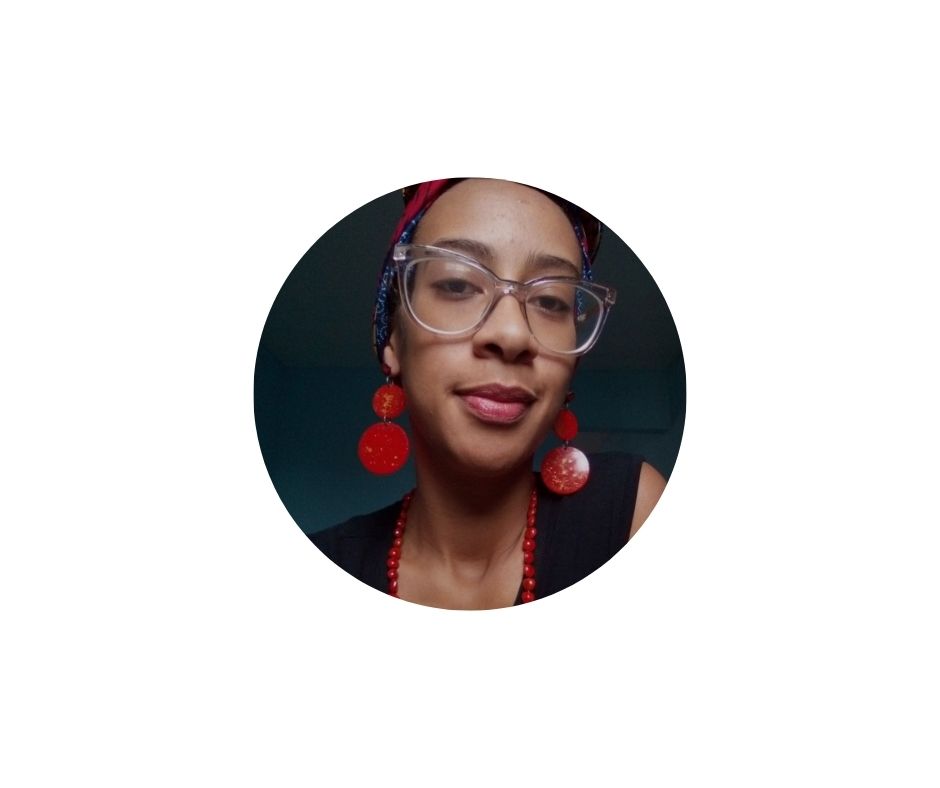Odisseia negra: quem ousa deter uma mulher que ama outra preta
A estudante Vitória Torres faz um relato poético de uma relação homoafetiva entre mulheres negras.
Por Redação
13|10|2020
Alterado em 13|10|2020
Sou irmã, sou filha, mulher preta constituída de carne e de plasma mas quem cuida de mim quando as horas se apagam na imensidão dos buracos-dor? Pensei em escrever palavras bonitas para por sob minha lápide escura, sei que esse dia chegará a qualquer instante e gostaria de estar bonita para ele, serena, como nunca pude estar.
Minhas lágrimas da cor do mar são feitas de solidão, no momento mesmo em que as ondas da Grande Mãe se quebram dentro da intimidade da lua. Essas são minhas águas. Sangue e mar. Vivo estremecida com a ideia de não conseguir chegar até ela, de me perder durante o trajeto, tal como Ulisses dentro das embarcações gregas. E se meu corpo fundir atrofiado nas esquinas? Morto e enterrado? Quem vai avisá-la de que não poderei mais brincar com sua pele?
Às vezes saio apressada de casa, corro maratonas, piso em espinhos de mandacus invisíveis, pronta para lutar com monstros reais e projetados. Quem sabe de mim quando as ruas estão mortas em seu silêncio? São poréns feitos de pólvora fina sob os dedos, membranas pouco sustentáveis, que se quebram e se refazem a cada instante. Há quem lute por mim?
Lembro da seca que se formou em minha garganta e que não sai mais da língua, esta mesma língua que tanto a penetra, recordo do sumo que tive que perder para poder estar dentro dela. Passagens para os transportes de aço e ferro, os quatro e cinquenta que não tenho. Sinto, ao tocar seus seios duros e negros, chagas em torno da palma, bem na linha do coração a passear nesse corpo vivo. Na boca, a mesma que a chupa sem cansaço, tem um grito de ódio pelos amores gastos que nunca pude ter. Pelo ódio inventado por ser quem sou.

Mãos pretas
©Ariel Bentos (Flickr/Creative Commons)
Quando, já a salvo em sua cama, ela me pergunta o porquê daquela água toda a invadir seus seios e seu corpo. Ora, e onde mais desaguaria? Onde mais me encharcaria de gozo-liberdade senão em sua vulva? Em que lugar gritaria as antigas dores que carrego em minhas costas senão na colcha retalhada feita para nos preservar das palavras ásperas direcionadas a nós em dias violentos?
Grito, danço, performo libertação, aperto sua mão como quem diz, não me larga mais vamos contornar a solidão.
E, na epifania dessa descoberta, anseio pelo momento em que subirei em terra firme, sustentando meu próprio corpo nas trajetórias do seu fim.
Contorno o não lugar em busca de algo já sem nome, sem estrutura linguística. Quem já pôde amar depois de hiatos de silêncio? Não há nome para isso, descrição, definição. Há um riso besta por sob os pano, relaxamento, retidão, quase não dá para lembrar das micro-fúrias diárias, do sono acordado por preocupações distantes, memórias de exílios que perfuram a linha ancestral de nossas mães, avós, tias. Somos um só corpo negro, um quilombo banto, nagô, jeje, repleto de cortes saturados, mas fechados, cobertos de saliva doce e morna.
Queria escrever palavras bonitas para por na minha lápide, leves, agradáveis, suaves. Mas na manhã que renasce, vejo por sob as minhas pálpebras ainda cerradas, a festa-fogo feita dentro do quarto, da intimidade contada, compartilhada por entre choros e risos, do cheiro que restou de ontem, das lâminas escondidas, dos combates guardados, do amor em forma de gozo.
Já não quero mais selecionar palavras de morte, volto às ruas com energia dupla, sou múltipla, levo em mim o meu e o dela. Duplicada tomo as esquinas com uma força crioula, zombeteira, pueril. Ouço o batuque angolano batendo forte em mim.
Quem ousa deter uma mulher preta que ama outra mulher preta?
E assim, pelas raízes de opressão, retiro do peito o sufoco de dor e sofrimento, sou outra, sou alguém, quase serena da própria condição, retorno da trajetória que escolho seguir para ter esse elo perdido em decorrência de embarcações forçadas e antigas.
Refaço-me dos dias mudos em que procurava no espelho outros corpos e outras bocas, todos rejeitados e passados. Recomponho-me de tristes histórias com finais felizes brancos, penso em Angola, nos passeios na cidade baixa e na mão preta que me acompanha agora pelos centros e pelas vias, me sinto em Angola quando vejo outras da mesma cor que a nossa, me sinto renascida daquelas brechas escuras por onde escondia meu gozo e meu lamento, das vielas sujas do isolamento.
Estou em casa, as paredes e as curvas dela são minha morada. Sou feita de plasma, tenho e possuo, abro e sou aberta, derramo e sou derramada dentro de barcos negros da paixão e da comunhão.
Vitória Torres é piauiense e mora em São Paulo há mais de dez anos, no Jardim Maringá-Vila Matilde, zona leste. Tem 22 anos, é estudante de Letras na Universidade de São Paulo, professora e revisora.