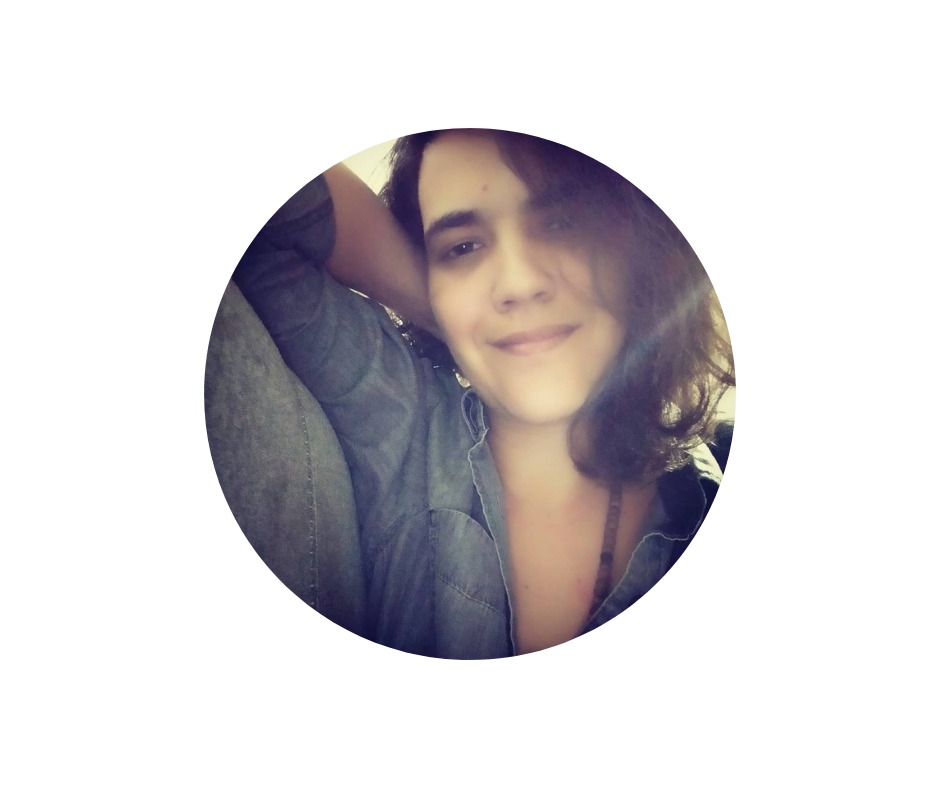Fica Quilombaque: resistência e luta em uma conversa em Perus
Este texto rememora uma roda de conversa com as lideranças negras KL Jay, Érica Malunguinho e Bruno Ramos em uma noite de junho de 2018 durante a terceira Semana de Direitos Humanos da Comunidade Cultural Quilombaque, no bairro periférico de Perus, em São Paulo.
Por Redação
20|10|2020
Alterado em 20|10|2020
Este texto rememora uma roda de conversa com as lideranças negras KL Jay, Érica Malunguinho e Bruno Ramos em uma noite de junho de 2018 durante a terceira Semana de Direitos Humanos da Comunidade Cultural Quilombaque, no bairro periférico de Perus, em São Paulo.
Mas, por que rememorar essa noite?
Primeiro, por uma urgência: em 2020, em plena pandemia, a Quilombaque está sendo alvo da especulação imobiliária e foi solicitado que seu terreno seja entregue ou, então, comprado pela ONG, que existe há 15 anos. Neste quilombo urbano, resistência, arte, cultura, memória e luta se articulam.
Em 2019, a comunidade viu partir o seu principal líder, o mestre-griô-periférico José Soró. “Um novo mundo é possível e nós estamos fazendo”, ele costumava repetir. Dentre esses fazeres, justamente, a criação de espaços de troca, como o desta potente roda de conversa, que reuniu principalmente jovens periféricos em busca da expansão de sua consciência política em um espaço afetivo e de pertencimento.
Em meio ao caos, trata-se de mais um ato genocida que compromete a continuidade da mobilização comunitária, a luta por direitos na região e a fragiliza a memória dos Queixadas, operários de Perus que em plena ditadura militar realizaram a mais longa greve da história do Brasil. Foram sete anos, inspirados na não violência de Gandhi. É por eles que os tambores da Quilombaque tocam.
A publicação desse conteúdo também explicita que vozes se levantando contra o racismo estrutural e o genocídio da juventude negra estão longe de serem uma novidade acalorada pelo instaurar de um sistema fascista no Brasil. Lembrar é neste caso, portanto, um ato de resistência.

Roda de conversa na Comunidade Cultural Quilombaque.
©Gica Muller
“Território inimigo. O sistema não gosta de vocês”
“Quero fazer uma pergunta especialmente para os pretos presentes: quem aqui já perdeu amigo, pai, irmão assassinado?”. Quando escutei o questionamento de Kleber Geraldo Lelis Simões, o KL Jay, dos Racionais MC’s, entendi o que havia me motivado a estar presente naquela noite fria de junho de 2018 em uma conversa sobre o genocídio da juventude negra na Comunidade Cultural Quilombaque.
As dezenas de mãos levantadas mostravam o contexto real do que o Atlas da Violência 2017 denomina como uma situação de guerra. E eu sabia que uma das linhas de atuação da Quilombaque era exatamente iluminar e articular narrativas com a intenção de fortalecer os jovens periféricos diante do massacre objetivo e subjetivo ao qual são constantemente submetidos.
Além de KL Jay, também participaram da roda Bruno Ramos, do projeto social Liga do Funk, e Érica Malunguinho – criadora do quilombo urbano Aparelha Luzia, hoje deputada estadual. A reunião dessas vozes, com o decantar do tempo, se apresenta a mim como um ato de resistência ainda mais intenso.
Segundo o Mapa da Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) divulgado em novembro de 2017, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. “Estamos no território inimigo, estamos na guerra. Somos ensinados desde crianças a ser aceitos no território inimigo, a andar de cabeça baixa, a fazer tudo o que o sistema exige. E mesmo assim a gente é perseguido. Território inimigo. O sistema não gosta de vocês”, explicava KL Jay.
Comecei a lembrar dos amigos de infância que ficaram pelo caminho. E dos momentos em minha trajetória em que o meu próprio corpo sentiu-se desconfortável para permanecer ou adentrar. Território inimigo. O corpo reconhece.
Potência que amedronta
“O sistema age no nosso corpo. Chega uma hora que quando a gente vê está andando meio esquisito mesmo. Esse é o corpo acostumado a levar enquadro, a levar tiro de raspão, a correr todos os dias para não perder o trem, porque é preciso dar atenção às prioridades”, explicou Bruno Ramos.
As expressões desse mesmo corpo, em uma linguagem como o funk, seria considerada ofensiva justamente por revelar potências. A criminalização da cultura do funk poderia ser considerada, assim, uma extensão da criminalização da presença e da expressão do próprio jovem periférico. Bruno Ramos lembrou o lastro histórico na perseguição a expressões culturais negras – do samba ao rap. “Os jovens não estão fazendo apologia à violência, eles estão falando da sua realidade”.
Escutei então, mais uma vez, sobre a profunda busca por aceitação social: o chamado funk ostentação é criticado por sua relação com o consumismo mas é exatamente o poder aquisitivo que permite aos jovens a sensação de reconhecimento em sua própria comunidade. Quando ocorrem as circulações em outros espaços, as roupas e marcas possibilitam a visibilidade e, de algum modo, o sentimento de pertencimento. “Mesmo tendo consciência política, a gente não é aceito”, citou Bruno, descrevendo o estranhamento causado por ele mesmo quando iniciou formação universitária em Sociologia e Política.
Quando, em dezembro de 2019, a ação truculenta da polícia em um baile funk na comunidade de Paraisópolis na zona sul de São Paulo resultou na morte de nove jovens com idades entre 16 e 23 anos, essas falas de Bruno Ramos ressurgiram com força em minha mente.
E o fato de os 31 policiais envolvidos ainda não terem sido devidamente responsabilizados é mais um incentivo para trazer de volta palavras que são flechas também no contexto presente: durante a pandemia, sob Bolsonaro, e com espaços voltados aos jovens periféricos, como a Quilombaque, correndo o risco de se desintegrar.
Racismo e projeto de extermínio
“É um projeto de extermínio na tentativa de apagamento das nossas vidas, da nossa história, da nossa autoestima. Olha o que fizeram conosco: achar normal que o irmão foi atravessar a rua e levou um tiro”. Érica Malunguinho também estava ali, com sua figura potente, falando diretamente aos jovens sobre como o racismo estrutural e as violências que dele resultam mantém o genocídio em curso. Citou como a precariedade dos sistemas públicos de educação, saúde e transporte demonstram o tipo histórico de tratamento dado aos negros.
E continuou: “O Estado consolida um sistema que fragiliza e dificulta a vida de uma população específica, fomentando cenários para que os jovens negros periféricos continuem sendo as principais vítimas de violência no país. Toda vez que um trabalho é negado a uma pessoa negra, ela está um passo mais perto da morte. Cada vez que um jovem sofre transfobia na escola, ele está mais perto da morte” .
Segundo dados de 2017 divulgados em 2019 pelo IBGE, no Brasil um jovem negro corre quase três vezes mais risco de ser assassinado do que um jovem branco.
Enfrentamento
KL Jay, Érica Malunguinho e Bruno Ramos foram enfáticos ao apontar a formação de redes como a melhor forma de enfrentamento ao genocídio. “Precisamos de redes de apoio, de solidariedade, de confiança, de respeito”, exemplificou Érica Malunguinho.
KL Jay pontuou com especial destaque a necessidade de redes de geração de renda, com a troca de conhecimento e de uma cultura que lide melhor com o dinheiro – evitando-se a percepção pejorativa em relação aos negros e periféricos que conseguem melhorar suas condições materiais. Bruno Ramos lembrou da dificuldade de planejamento financeiro e dos endividamentos que ainda soterram orçamentos domésticos dessas regiões, fragilizando estruturas familiares.
“Já está provado que nós somos indesejáveis para o Estado”, enfatizou Érica Malunguinho.
Essas falas seguem me mobilizando desde então. Em um momento como o que passamos, que solicita esperança diante de uma perspectiva repleta de nebulosidade, percebemos enlutados as consequências de nosso genocídio estrutural vigente.
Mas essas são, do meu olhar, palavras que precisam ser repetidas muitas vezes até que o tema do genocídio da juventude negra seja observado com a seriedade que solicita. Porque, senão, simplesmente não é possível imaginar outra cidade, outra sociedade, outro país. Não haverá nenhum “novo” se não cuidamos da nossa juventude.
Quando um espaço como o da Comunidade Cultural Quilombaque está em risco, muito está sendo ameaçado. Para os jovens periféricos de Perus e região, praticamente sem acesso a equipamentos culturais em seu território, trata-se de um lugar de identificação, acolhimento, escuta e, principalmente, expressão através da arte e da cultura. É também um lugar para a conscientização sobre direitos, para o fortalecimento da autoestima, para sonhar futuros.
Onde rodas, trocas e encontros fazem ecoar através do tempo mensagens de luta e resistência. Um quilombo do qual, simplesmente, não podemos abrir mão.
#FicaQuilombaque
A Comunidade Cultural Quilombaque organizou uma vaquinha virtual como forma de arrecadar os recursos financeiros necessários para manter o seu espaço. Para contribuir, acesse: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/fica-quilombaque .
Débora Pinto é jornalista-pesquisadora e produtora de conteúdo articulando os temas Educação, Cultura e Direitos Humanos com ênfase no Brasil contemporâneo. Fez parte do coletivo que realizou o documentário interativo Entrevilas sobre as vilas operárias de São Paulo, projeto que a levou a conhecer a Comunidade Cultural Quilombaque em Perus. É integrante do bloco feminista Filhas da Lua. Originalmente do IAPI, Jardim Piratininga, Osasco.