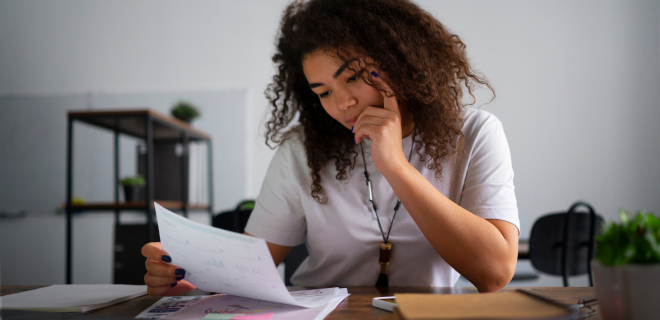
Entre o sonho e o aperto: afinal, quem é a classe média brasileira?
Conquistas materiais e medo de retrocesso marcam a chamada classe média, que vive em um lugar intermediário: não tão longe da miséria, nem tão próxima do conforto garantido
Por Amanda Stabile
30|10|2025
Alterado em 30|10|2025
Não repare na casa não, ela é velha, e a única coisa bonita é a minha nova geladeira branca na cozinha, é a única coisa que presta.
Essa frase foi dita com orgulho por uma moradora de um bairro popular da região metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma festa organizada para apresentar o novo eletrodoméstico da família.
A geladeira frost free, comprada com esforço e crédito parcelado, virou símbolo de conquista, conforto e inclusão. “Agora vou poder receber visitas e dar festas, pois as bebidas vão gelar. Vou poder fazer pavê, comprar sorvete, fazer gelo para o refrigerante. Agora, sim”, comemorou.
O relato, registrado pela antropóloga Hilaine Yaccoub, mostra como o consumo de bens duráveis — especialmente eletrodomésticos — passou a representar muito mais do que praticidade. Para milhões de brasileiros, se tornou um passaporte simbólico para outro estrato social, a chamada classe C, grupo que passou a ser reconhecido como “nova classe média” brasileira nos anos 2000.
A nova classe média
O termo “nova classe média” se popularizou especialmente após uma pesquisa divulgada em 2008 pela Fundação Getulio Vargas (FGV) que apontou que mais da metade da população brasileira havia alcançado a faixa de renda conhecida como classe C. Segundo o estudo, a classe C incluía famílias com renda domiciliar mensal entre R$ 1.064,00 e R$ 4.591,00, em um contexto em que o salário mínimo era de R$ 415,00.
Nesse enquadramento, a classe C não é composta por famílias ricas nem por aquelas na faixa de pobreza extrema. Trata-se de um grupo intermediário, formado por pessoas que haviam deixado a pobreza recentemente e passaram a contar com algum grau de estabilidade financeira — como renda regular, acesso ao crédito e a possibilidade de consumir bens antes inacessíveis.
Para os economistas da FGV, esse grupo passou a representar uma nova classe média, definida menos pelo status social tradicional e mais pela mobilidade econômica: pessoas que, com maior poder de compra, passaram a ocupar um novo espaço no mercado e na sociedade.
No mesmo ano, uma pesquisa nacional de opinião pública realizada pelo Centro de Estudos de Opinião Pública (Cesop/Unicamp) buscou entender como os brasileiros se percebiam dentro da estrutura social. Diferentemente do levantamento da FGV, que se baseou em dados de renda e consumo, essa pesquisa investigou a identidade de classe espontânea — ou seja, como os próprios entrevistados classificavam sua posição social, sem que fossem oferecidas opções de resposta.
Os resultados mostraram que, mesmo com o avanço da renda observado naquele período, a maioria dos brasileiros se identificava como pertencente à classe baixa ou trabalhadora. A autodeclaração como “classe média” era menos frequente e aparecia com mais força entre os grupos de renda mais alta, com maior escolaridade e ocupações de prestígio.
Esses dados foram analisados pelo sociólogo André Ricardo Salata, em artigo publicado na revista DADOS em 2015. Ao cruzar as respostas espontâneas com variáveis como renda, escolaridade e ocupação, ele observou que “os indivíduos situados em posições superiores (perfil ‘AB’) são os que possuem probabilidades mais altas de se identificarem com a ‘classe média’ no Brasil; enquanto os que ocupam posição intermediária – e que vêm sendo denominados ‘nova classe média’ – não apresentam identificação muito clara com nenhuma classe”.
Com base nessa análise, o pesquisador apontou que o aumento da renda não é suficiente, por si só, para transformar a forma como as pessoas se percebem dentro da sociedade. Ou seja, o reconhecimento como classe média envolve também aspectos simbólicos, como estilo de vida, prestígio e padrões de consumo.
Essa mesma linha de raciocínio aparece em estudo do filósofo Anderson Alves Esteves, publicado na revista Intuitio. O autor analisou como a chamada “classe C” passou a ser tratada como classe média, especialmente a partir do crescimento da renda e do consumo entre os anos 2000 e 2010.
Segundo ele, essa associação foi reforçada por pesquisas e discursos públicos que usaram critérios como posse de bens, acesso a crédito e aumento do poder de compra para afirmar que o Brasil havia se tornado um “país de classe média”. No entanto, o estudo aponta que esse tipo de leitura deixa de lado outros aspectos importantes, como o tipo de trabalho que as pessoas exercem, o nível de escolaridade, o estilo de vida e até a forma como elas se relacionam com o dinheiro.
Ele cita o seguinte exemplo do livro “Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora” de Jessé Souza:
“[…] Um professor universitário, em início de carreira, que ganha seis mil reais terá, com toda a probabilidade, uma condução de vida, hábitos de comportamento e de consumo, formas de lazer e de percepção do mundo em todas as dimensões muito diferentes de um trabalhador qualificado de uma fábrica de automóveis que também ganha seis mil reais. Associar essas duas pessoas como sendo de uma mesma classe não tem qualquer sentido e é absurdo”.
Para além da renda
A discussão sobre quem é, afinal, a classe média brasileira ganhou novos contornos. Para além da renda, metodologias também passaram a incorporar critérios que consideram aspectos como escolaridade, acesso a serviços e condições de moradia, como o Critério Brasil, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) e aplicado desde 2015.
A pontuação é atribuída com base em fatores como:
Número de banheiros no domicílio;
Posse de bens duráveis (geladeira, máquina de lavar, computador etc.);
Possibilidade de contar com trabalhador(a) doméstico(a) mensalista;
Acesso a serviços públicos (água encanada e rua pavimentada).
Após a soma dos pontos, os domicílios são classificados em estratos. Em 2024, as classificações foram:
A: R$ 26.811,68
B1: R$ 12.683,34
B2: R$ 7.017,64
C1: R$ 3.980,38
C2: R$ 2.403,04
D/E: R$ 1.087,77
Segundo essa classificação, a chamada classe C — formada pelos estratos C1 e C2 — inclui famílias com renda entre R$ 2.403,04 e R$ 3.980,38. Esse grupo representa cerca de 47% da população brasileira e continua sendo associado à “nova classe média”. Mas uma pergunta permanece: a chamada “classe C” ocupa mesmo esse lugar no meio da pirâmide social — entre os pobres e os ricos — ou, na prática, continua muito mais próxima da realidade de quem vive no aperto, sempre com medo de perder tudo se a renda falhar ou uma conta inesperada aparecer?
Além disso, é importante considerar que a experiência de fazer parte da classe média não é vivida da mesma forma por todos. Pesquisas sobre mobilidade social de pessoas negras que alcançaram níveis de renda e consumo associados à classe média mostram que esse grupo nem sempre é reconhecido como pertencente a esse lugar.
A socióloga Angela Figueiredo, em artigo sobre mobilidade social de negros na classe média brasileira, afirma que “isto cria uma tensão adicional no cotidiano das pessoas negras com poder aquisitivo mais elevado, que sempre são vistas como estando ‘fora do lugar’ sociologicamente construído e simbolicamente determinado”.
Essa percepção aparece em situações cotidianas: ao entrar em shoppings, restaurantes, condomínios, escolas privadas ou ao consumir bens associados ao status. Mesmo quando há estudo e estabilidade, o reconhecimento não é automático. “Ao ultrapassarem estes espaços restritos de reconhecimento, quase sempre estes indivíduos são vistos como negros e tratados do modo como se trata, em geral, os negros no Brasil, sempre com certa desconfiança”, explica.
Ela resume essa condição dizendo que muitas dessas famílias chegam à classe média sem herança e sem redes de apoio, o que torna sua permanência frágil. “Trata-se de uma classe média de um grupo subalternizado, instável, incipiente e que encontra muitas dificuldades em manter-se na posição de classe”, diz. Ou seja: subir de renda não significa ser reconhecido como classe média — nem significa segurança.
Identidade, pertencimento e o desejo de “melhorar de vida”
Mesmo com os desafios econômicos dos últimos anos, como o aumento do custo de vida e a alta nos preços de itens essenciais, a identificação com a classe média se tornou mais comum entre os brasileiros. Segundo pesquisa da Quaest, realizada com 2.000 entrevistados em todo o país e divulgada em fevereiro de 2025, 66% da população afirmaram se considerar parte da classe média.
Esse dado inclui pessoas de diferentes faixas de renda, inclusive aquelas classificadas como pertencentes às classes baixa e alta. Entre os entrevistados da classe baixa, 55% se enxergavam como classe média. Na classe alta, esse número sobe para 81%.
A pesquisa aponta que a classe média funciona como um referencial simbólico de estabilidade e ascensão social, o que contribui para sua ampla identificação. Além da autopercepção, o levantamento da Quaest traz dados sobre características associadas à classe média. Entre os que se identificam com esse grupo:
59% vivem em imóveis próprios e quitados, enquanto 25% pagam aluguel;
84% têm conta bancária e 79% usam o Pix;
58% possuem cartão de crédito;
A configuração familiar mais comum é de três pessoas por domicílio, padrão semelhante ao observado na classe alta.
Esses indicadores ajudam a entender os elementos que compõem a percepção de pertencimento à classe média. A pesquisa também mostra que, mesmo diante de limitações orçamentárias, esse grupo apresenta maior integração aos serviços financeiros e aos padrões de consumo considerados estáveis.
Nova classe média ou novas formas de exploração?
Nem todos os pesquisadores concordam com a ideia de que o crescimento da classe C representa, de fato, uma ascensão social. Para alguns, essa leitura pode ocultar aspectos estruturais da realidade brasileira. É o que argumentou o pesquisador Mathias Seibel Luce, em artigo publicado na revista Trabalho, Educação e Saúde.
A crítica se baseia na chamada Teoria Marxista da Dependência, desenvolvida por pensadores latino-americanos como Ruy Mauro Marini. Essa teoria parte da ideia de que países como o Brasil estão inseridos no sistema econômico global de forma subordinada — ou seja, dependem dos países mais ricos. Para compensar essa posição desigual, o capital nesses países recorre a formas mais intensas de exploração do trabalho.
Essa perspectiva ajuda a entender por que o crescimento da renda e do consumo não garante, por si só, uma mudança real na posição social dos brasileiros. Para a Teoria da Dependência, é preciso olhar também para as condições de trabalho, o acesso a direitos e a capacidade de viver com dignidade.
Um dos conceitos centrais dessa abordagem é o de superexploração da força de trabalho. Isso acontece quando os trabalhadores recebem salários muito baixos, trabalham por longas jornadas ou em ritmo acelerado, sem que isso se reflita em melhores condições de vida.
O pesquisador explica que o acesso ao consumo — como comprar eletrodomésticos ou ter crédito — pode parecer sinal de progresso, mas muitas vezes está ligado ao endividamento e ao desgaste físico e mental dos trabalhadores.
“O fato de hoje, em muitas famílias da classe trabalhadora brasileira, nem o salário do marido e nem o da esposa somados alcançarem o patamar considerado como remuneração normal evidencia o quanto a tendência observada expressa uma violação do valor da força de trabalho”, alerta.
Além das críticas econômicas e sociológicas à ideia de “nova classe média”, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) propõem uma leitura mais voltada para o cotidiano das pessoas. Em um estudo publicado na revista Psicologia USP, eles analisam como o aumento da renda e do consumo mudou a rotina das famílias, seus valores e a forma como se enxergam.
Segundo os autores, muitas pessoas passaram a ver o consumo como sinal de inclusão e conquista. Comprar uma geladeira nova, um celular ou conseguir crédito virou símbolo de que “venceram na vida”. Isso reforça a ideia de que quem se esforça consegue melhorar — uma lógica conhecida como meritocracia.
Segundo eles, a chamada “nova classe média” é formada, em grande parte, por trabalhadores do comércio e dos serviços, que têm jornadas longas, salários baixos e empregos instáveis. Para manter o padrão de consumo, muitos acabam se endividando. Como destacam os autores, há pessoas que trabalham muito, ganham pouco e ainda precisam recorrer ao crédito para pagar as contas.
Mesmo com avanços, como maior acesso à educação e ao mercado formal, essa população continua enfrentando desigualdades — como morar em regiões periféricas com pouca oferta de serviços públicos. O consumo ajuda a afirmar uma posição social, mas não garante segurança nem inclusão completa.




